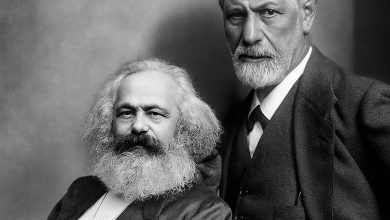Esta pandemia é a expressão mais trágica da fase atual do capitalismo, diz Stedile

Coordenador do MST lança livro sobre reforma agrária no mundo e propõe que no Brasil ela seja baseada na agroecologia
A morte de 19 trabalhadores sem-terra em Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, deu a abril o título de mês de jornada de lutas para os movimentos do campo. A tragédia reforçou a importância de movimentos camponeses, em busca de distribuição digna de terras e que desse aos trabalhadores a condição de produzir e viver com um mínimo de dignidade. O passo adiante até a conquista de uma reforma agrária no Brasil, porém, nunca existiu.
Além do país nunca ter conseguido promover uma reforma agrária, o debate sobre o tema por aqui foi travado, visto que pesquisas e debates foram retirados de livros e universidades por imposição da hegemonia neoliberal, a partir da década de 1990.
Pensando na falha histórica de distribuição de conhecimento, João Pedro Stedile, membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), decidiu escrever Experiências históricas de reforma agrária no mundo – Volume I, publicado pela Livraria e Editora Expressão Popular.
Na série de relatos sobre a reforma agrária no mundo, o autor, sucintamente, busca dar luz a experiências em países que viveram o processo. Ao mostrar exemplos, Stedile ressalta que é impossível querer copiar modelos, porque cada país tem correlação de forças específicas e lutas com características próprias.
Em entrevista ao Brasil de Fato, o coordenador do MST afirma que, diante do momento em que vivemos, a nova missão dos camponeses é a de “zeladores da natureza”. Segundo ele, é preciso que o foco dos trabalhadores do campo, agora, esteja na produção de alimentos saudáveis para toda a sociedade, com base na agroecologia.
Para que a reforma agrária aconteça, de fato, no Brasil, é preciso que todas as forças populares da sociedade estejam unidas em um só propósito: dispor os bens da natureza a todos sem destruí-la.
Leia a entrevista completa:
Brasil de Fato: O que as experiências de reforma agrária narradas no livro nos ensinam para o presente?
João Pedro Stedile: O livro tem como objetivo principal trazer ao conhecimento do público brasileiro, sejam militantes ou não, quais foram as principais experiências de reforma agrária no mundo, de uma forma sucinta, com suas principais características.
No Brasil, na América Latina e em todo mundo, há uma carência muito grande desse tipo de literatura, sobretudo pela imposição da hegemonia neoliberal nas universidades e editoras, a partir da década de 1990, que tirou das pesquisas e debates a reforma agrária. Assim, me dediquei nos últimos anos a recolher escritos, relatos, textos das diversas experiências para sistematizá-los.
Por outro lado, motivado também pelos debates nos movimentos camponeses em geral e na Via Campesina Internacional [organização que reúne movimentos agrários ao redor do mundo], criei uma sistematização própria, classificando os diferentes tipos de reforma agrária, entre reformas clássicas, reformistas, radicais e populares. Neste primeiro volume, procurei publicar um ou dois países de cada tipo, para que o leitor tivesse uma ideia geral de como aconteceram.
É impossível querer aplicar no presente ou querer “copiar” qualquer um entre os diferentes tipos de reforma agrária, porque elas são fruto da experiência histórica de luta social e da correlação de forças que houve em cada país, em cada sociedade, quando foram realizadas.
Nós, no Brasil, tentamos em diversos períodos históricos implementar a reforma agrária clássica, que foi realizada sob hegemonia da burguesia industrial em outros países, para desenvolver as forças produtivas capitalistas. Mas fomos derrotados em todas elas. Tivemos a primeira oportunidade na saída da escravidão, mas negamos aos ex-trabalhadores escravos o direito de acesso à terra, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, ou do Haiti.
Depois, na fase do capitalismo industrial, de novo preferimos adotar o sistema da grande propriedade exportadora para suprir as necessidades de importação da burguesia industrial. Por último, quando na década de 1960 o modelo industrial entrou em crise, de novo perdemos a oportunidade de uma reforma agrária clássica, com a proposta de Celso Furtado, que foi derrotado pelo golpe empresarial-militar de 1964. Depois disso, só tivemos experiências pontuais, parciais, de assentamento e não de reforma agrária ampla.
De que forma alastrar e aprofundar o debate sobre reforma agrária nas bases do campo, principalmente em locais distantes dos grandes centros?
Ainda que não seja o objeto do livro, o debate da necessidade de uma reforma agrária no Brasil agora passa por outros parâmetros. No passado, com as propostas e experiências concretas de reformas agrárias, sejam clássicas, radicais ou reformistas, o objetivo era, por um lado, democratizar o acesso à terra como bem da natureza às massas trabalhadoras, e, portanto, garantir o direito à terra a quem nela trabalha, que foi a grande bandeira popularizada pela revolução mexicana com Emiliano Zapata. Por outro lado, gerar um grande mercado interno consumidor, de parte da massa de camponeses, inserindo-os na produção de bens para o mercado, portanto, mercadorias e, com isso, desenvolver as forças produtivas internas e o capitalismo industrial.
Agora, os paradigmas a serem resolvidos por uma reforma agrária são de outro tipo. A burguesia não tem interesse em democratizar o direito à terra, e nem o capitalismo precisa dos camponeses. Então o que está na pauta, agora, é a produção de alimentos saudáveis para toda a sociedade, baseados na agroecologia, a forma de utilizar os bens da natureza (terra, água, biodiversidade, minérios, energia) para que eles estejam à disposição do bem comum, de toda a sociedade e, com isso, a nova missão dos camponeses deve ser de zeladores da natureza. Essas três condições – os fazendeiros capitalistas, o agronegócio como modelo e o capitalismo como modo de produção – não conseguem mais resolver.
Assim, estaremos diante de uma reforma agrária de novo tipo aqui no Brasil, na América Latina, e na maioria dos países do hemisfério sul, que não fizeram nenhuma reforma agrária popular anterior. O nome, o rótulo, não importa, o mais importante é que ela resolva os paradigmas apontados acima. Por isso, a reforma agraria atual não depende apenas dos camponeses, mas de todo o povo, das forças populares em geral.
Com os processos de redistribuição de terra parados pelo governo, como devem agir os movimentos populares e os próprios campesinos? A melhor aposta é em reformas radicais e populares?
Aqui no Brasil, nós nunca tivemos um processo de reforma agrária ampla de nenhum tipo. Nem sequer a reformista, que foram experiências realizadas em alguns países da América Latina que democratizavam a propriedade da terra, de forma parcial ou localizada. Tivemos apenas políticas de colonização em terras públicas, principalmente na fronteira agrícola da Amazônia Legal, e políticas de assentamento, quando se instalavam conflitos sociais decorrentes da luta dos camponeses.
Agora, diante das novas necessidades, nós precisamos, como movimentos camponeses, seguir o processo permanente de organização de nossas bases, conscientização política e elevação do padrão cultural, para que todos se deem conta das novas características de uma reforma agrária.
Ao mesmo tempo, levar o debate e todo o processo para os movimentos populares, para as forças políticas de esquerda, para que entendam a etapa da luta social em que vivemos, que impõe a necessidade de debater um novo projeto popular para o Brasil. Não se trata apenas de debater a questão agrária. Precisamos debater a questão nacional para todo o povo brasileiro.
Neste mês relembramos o “Abril Vermelho”, em memória dos 19 trabalhadores que foram assassinados em Eldorado dos Carajás (PA). Quais ensinamentos essa dor que começou 24 anos atrás nos traz hoje?
Na história das lutas camponesas no Brasil, infelizmente as oligarquias, a classe dominante, sempre atuou com extrema violência procurando abafar a luta pelos direitos sociais da maioria da população que vivia no campo. Assim eram reprimidos os trabalhadores escravos todos os dias no pelourinho ou com seus capitães-do-mato, para impedir as fugas. Assim foi quando surgiu o campesinato no final do século 19, com Canudos (BA), Contestado (PR/SC) e Caldeirão (CE), que foram as mobilizações mais conhecidas. Mas em todos os estados houve rebeliões e massacres.
Depois, ao longo do século 20, muitas lutas camponesas foram reprimidas a bala. Inclusive contra as ligas camponesas e no golpe empresarial-militar de 1964 houve muitos mortos, presos e torturados, que ocorreram contra a base das ligas, movimentos e sindicatos até suas lideranças, como Gregorio Bezerra, Francisco Julião, Clodomir de Moraes, Padre Francisco Lage, João Sem Terra, Lindolfo Silva, Zé dos Prazeres, etc.
Assim foi quando ressurgiram os movimentos camponeses, com a redemocratização a partir de 1984. Todos os movimentos camponeses, populares e sindicais sempre sofreram repressão da classe dominante quando quiserem se organizar e lutar. Há inúmeros casos individuais contra as lideranças ou coletivos. Nestes 40 anos de democracia fajuta, foram assassinados mais de 1.600 companheiros e companheiras no campo. Menos de cem casos tiveram julgamento.
É neste contexto que devemos analisar o massacre de Carajás, até hoje impune, pois os dois comandantes da PM condenados a mais de 200 anos de prisão até hoje estão em suas casas, por medidas liminares da Justiça.
Aos militantes do campo e de toda a sociedade, não podemos nos calar. Devemos denunciar sempre, aproveitar as datas, para além de homenagear a memória dos mártires, servir como alerta e denúncia para toda sociedade. Como disse o poeta Pedro Tierra sobre os massacres já havidos: “Se nos calarmos, até as pedras gritarão!”
O senhor acredita que a pandemia do novo coronavírus pode mudar, de alguma maneira, as relações no campo? Se sim, como?
A pandemia do coronavírus é a expressão mais trágica da etapa atual do capitalismo e da crise civilizatória que vivemos. Primeiro, porque há muitos estudos científicos demonstrando que a eclosão de diversos novos vírus, antes desconhecidos, é parte da consequência de termos desequilibrado as forças da natureza, com o modelo de produção agrícola industrial em alta escala. A maioria dos novos vírus tem se propagado através da criação em grandes escalas de animais, aves, suínos, bovinos, etc.
Segundo, que, diante da eclosão de crises como esta, fica evidenciada a importância de nossa tese de que devemos defender a soberania alimentar. Ou seja, cada povo, em cada região, precisa ter autonomia da produção de seus alimentos. O comércio global de commodities agrícolas fracassou. Se a China parar de comprar soja durante duas semanas, o agronegócio brasileiro quebra, tal a dependência e sua fragilidade como modelo. Se uma greve de caminhoneiros durar duas semanas, falta frango nos supermercados de Belém, abastecidos desde Chapecó a centenas de quilômetros.
Então, a pandemia vai ajudar a colocar em pauta o tema da soberania alimentar, dos alimentos saudáveis, da agroecologia e da necessidade de produzirmos próximo ao mercado consumidor. Isso somente é possível através da agricultura familiar e camponesa. Nesta crise, de que adianta dizer que somos os maiores exportadores de soja, milho, etanol, açúcar e gado bovino?
O que os cidadãos urbanos podem fazer para incentivar o fortalecimento da reforma agrária? Qual o papel deles na luta do campo?
Como disse antes, agora a reforma agrária não é mais um tema camponês apenas. Ela interessa a todo o povo e, por isso, dizemos que ela se transformou em reforma agrária popular. Porque as mudanças que devem ser feitas não serão apenas de estrutura da propriedade da terra, mas sim de paradigmas, da proteção da natureza, para evitar inclusive as mudanças climáticas, a falta de água na cidade e a produção de alimentos saudáveis. Para isso, todo o povo terá que se mobilizar através de todas as suas formas organizativas, desde associações de bairro, movimentos feministas, da juventude, negros, igrejas, sindicatos, movimentos e partidos políticos.
Ao mesmo tempo, a reforma agrária somente se realizará no bojo de mudanças estruturais socioeconômicas de toda a sociedade brasileira. A militância precisa estudar, conhecer, debater um novo projeto e organizar o povo para que lute por mudanças estruturais.
Como conquistar espaço para mudanças governamentais na vigência de um governo ultraliberal e antipopular?
A crise econômica profunda da atual etapa do capitalismo, a crise ambiental que estamos imersos, e as crises sociais e políticas delas resultantes, demonstraram que precisamos de mudanças também na democracia formal burguesa e no padrão dos governos.
A burguesia ainda tentou nos impor governos neofascistas, autoritários, em vários países. Porém, todos eles fracassaram. A maioria deles já caiu ou está também em crise. Ficaram por último na fila o governo da Hungria, Trump e Bolsonaro. Suas propostas ultraneoliberais e métodos de aplicação neofascistas, com ameaças e com teorias fantasiosas, estão sendo desmoralizadas em todo o mundo.
No Brasil, aumentam as forças sociais e políticas que perceberam que o governo Bolsonaro é corresponsável pelo aprofundamento da crise. Portanto, ele é um entrave a mudanças para salvar o povo e melhorar as condições de vida. Os capitalistas não conseguirão sair da crise sozinhos, jogando todo o peso sobre o povo. A política econômica do senhor Guedes não deu certo no Chile, nos Estados Unidos e muito menos dará no Brasil. Os banqueiros e as corporações transnacionais estão sendo execrados em todo o mundo, porque são os responsáveis por essa situação. Pode demorar semanas, meses, mas, como proposta hegemônica que orienta a sociedade, eles já acabaram.
Falta-nos ainda capacidade de organização e mobilização do povo que aglutine forças ao redor de um novo projeto de país. Espero que, após o coronavírus, o povo se levante. Estamos num período histórico, descrito pelos analistas como a situação em que o velho ainda não morreu e o novo não nasceu.