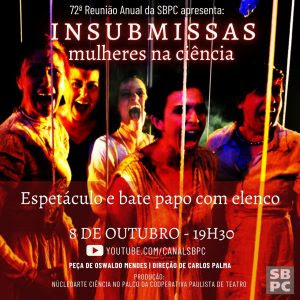Falta espaço e reconhecimento para as mulheres na ciência

por Fernanda Selingardi Matias e Michele Bertoldo Coêlho
Mesmo sendo maioria na graduação e na pós-graduação, as mulheres são minoria como professoras universitárias e líderes de grupos de pesquisas. Além disso, a porcentagem da participação feminina diminui acentuadamente à medida que comparamos os mais alto níveis da carreira acadêmica.
A questão da falta de diversidade de raça, classe e gênero na ciência é um problema sistêmico da maneira como nossa sociedade está organizada. Por um lado, esse problema é reflexo das nossas desigualdades sociais e por outro lado ele contribui para perpetuá-las. Em particular, a falta de referencial de mulheres cientistas não é novidade e seus impactos são visíveis na sociedade.
As mulheres compõem aproximadamente metade da população brasileira (51,5%) e são maioria na graduação e na pós-graduação. No entanto, no quadro de docentes de universidades públicas, que são as responsáveis por 95% da pesquisa no Brasil, elas ainda são minoria (43%). A porcentagem de mulheres que recebem bolsa produtividade do CNPq é ainda menor (34,2%) e, no nível mais alto – chamado A1 -, a proporção é menor do que 1 mulher para cada 4 homens. Ainda assim, somos responsáveis por 72% da produção dos artigos nacionais.

Aristóteles, Platão, Sócrates, Einstein, Newton, Darwin e Galileu são alguns nomes de pensadores e cientistas famosos que nos ensinaram no colégio. Todos homens. Desde as primeiras civilizações que estudamos, aprendemos que os homens governam a sociedade. Eles determinam politicamente os lugares permitidos às mulheres. E, até muito recentemente, esses lugares estavam associados exclusivamente ao cuidado dos homens, da casa desses homens e dos filhos desses homens. Ou seja, o espaço público era ocupado apenas pelos homens e às mulheres restava o espaço privado, familiar, sem prestígio e sem influência econômica ou social.
Há menos de 200 anos era socialmente inaceitável que existissem mulheres pensadoras e investigadoras. Por muito tempo nos foi negado o acesso à educação, ao trabalho remunerado, e consequentemente, à pesquisa. Esse tolhimento foi, em parte, justificado pela hipótese absurda e ultrapassada de que mulheres eram inferiores aos homens. Que Aristóteles pudesse sugerir esse tipo de ideia há mais de dois mil anos pode até parecer aceitável. Mas, infelizmente, esse tipo de pensamento persistiu e se infiltrou na sociedade moderna de tal maneira que até Darwin, há menos de 150 anos, tentou defender uma inferioridade feminina de natureza biológica. Aqui não deveria ser necessário, mas ainda é preciso repetir: pensamento este que nunca foi comprovado cientificamente.
Depois de séculos de luta contra esse sistema que não considerava mulheres como cidadãs, iniciou-se um processo global, ainda que lento e relativamente recente, de inserção oficial das mulheres na educação e no trabalho. Apenas em 1867, na Suíça, a Universidade de Zurique oficialmente abriu as portas para as mulheres; em 1878 foi a Universidade de Londres, a primeira do Reino Unido; e, em 1879, foi a vez do Brasil. Só em 1948, tivemos aqui Sonja Ashauer, a primeira mulher brasileira a obter doutorado em física; Em seguida, Maria Laura Moura, em 1949, foi a primeira brasileira a obter doutorado em matemática. E finalmente, só em 1989 Sonia Guimarães se tornou a primeira negra brasileira a obter doutorado em física. E apenas em 2006 o Brasil teve sua primeira mulher indígena doutora: Maria Pankararu.
Como se já não bastasse o impedimento histórico e cruel do acesso ao ensino, as contribuições de muitas mulheres que burlaram as regras e conseguiram enveredar pela ciência permaneceram apagadas ou convenientemente esquecidas dos livros e das aulas de história. Por exemplo, pouco se sabe sobre a vida de Hipátia, filósofa, astrônoma e possivelmente a primeira matemática de quem se tem registro, que ensinou na Academia de Alexandria por volta de 400 d.C.. Esse apagamento é mais comum do que costumamos perceber e pode ser em parte explicado porque a nossa história ainda é majoritariamente registrada e contada por homens que consciente ou inconscientemente ignoraram as contribuições das mulheres; e em parte porque a própria sociedade da época em que essas mulheres viveram silenciou suas vozes e seus trabalhos.
Não é incomum descobrirmos cientistas, artistas e escritoras que tiveram seu reconhecimento roubado ou ofuscado por um homem mais famoso, ou que precisaram assinar seus trabalhos com o nome de algum homem – às vezes do próprio marido –, que acabou levando a fama por seus trabalhos. Um exemplo que ainda sofre resistência por parte da academia em ser amplamente investigado e divulgado é o caso da Mileva Maric, primeira esposa de Einstein. Ela trabalhou com o marido em pesquisas que o tornaram célebre – incluindo a famosa Teoria da Relatividade e a descoberta do efeito fotoelétrico que lhe rendeu o prêmio Nobel de 1921 – mas não teve sua colaboração creditada oficialmente, apenas registrada em cartas trocadas pelo casal. Outro caso recente é o da Rosalind Franklin cuja pesquisa provou a estrutura da dupla hélice do DNA, mas seus registros foram utilizados e publicados sem autorização e sem citação por James Watson e Francis Crick no trabalho que lhes rendeu o prêmio Nobel de 1962 (IGNOTOFSKY, 2017).
A falta de referências de mulheres pensantes, investigadoras e cientistas impacta cotidianamente e das mais diversas formas a vida de meninas e mulheres, criando obstáculos que as afastam das carreiras científicas. Portanto, na busca por equidade de gênero, é fundamental resgatarmos e popularizarmos as descobertas e contribuições de mulheres que estavam a frente de seus tempos, que existiram, resistiram e contribuíram significativamente para a ciência, mesmo enfrentando tantas as barreiras sociais. É preciso acabar com as heranças dessa história mal contada e desse processo de invisibilização da mulher na ciência que se arrasta até hoje. Para que mais meninas possam sonhar com a carreira de cientista e mais mulheres consigam avançar nessa carreira, precisamos entender que o chamado senso comum muitas vezes está baseado em ideias erradas e preconceituosas.
Um estudo realizado com crianças mostrou que meninos e meninas de 5 anos atribuem a qualidade de “muito, muito inteligente” ao próprio gênero. No entanto, a partir dos 6 anos, meninas atribuem esta qualidade mais recorrentemente ao gênero oposto. O senso comum molda meninas desde muito cedo a acreditarem que brilhantismo é “coisa de menino”. E no imaginário de muitas dessas meninas ser cientista é algo inatingível, algo que nem chega a ser cogitado, porque genialidade e inteligência foram desde muito cedo qualidades associadas aos meninos.
Os efeitos, conscientes ou não, da suposta incompatibilidade do atributo “inteligência” com o gênero feminino seguem acompanhando as mulheres nos diferentes passos da carreira acadêmica: artigos publicados por mulheres como primeiras autoras são menos aceitos e, quando aceitos, são menos citados do que os artigos em que o primeiro autor é homem; homens editores indicam proporcionalmente menos mulheres como revisoras do que outros homens como revisores; currículos idênticos para cargos nas universidades com nomes de homens são mais bem avaliados do que com nome de mulheres (STEINPREIS et al., 1999). O descrédito no trabalho da mulher também está refletido no menor número de convites para bancas de avaliação, eventos acadêmicos e colaborações, o que só limita as oportunidades de crescimento na carreira.
Assédio sexual e maternidade
Além de combater preconceitos de gênero e divulgar ações e projetos de mulheres, precisamos de políticas públicas e iniciativas coletivas que combatam dois outros grandes obstáculos para permanência das mulheres na academia: assédio sexual e a invisibilidade da maternidade. O ambiente majoritariamente masculino especialmente nas áreas de exatas, é frequentemente hostil – tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos – e contribui para colocar essas duas questões embaixo do tapete. Uma pesquisa realizada com estudantes de graduação em física dos EUA revelou que 74,3% das alunas, o que representa aproximadamente 3 a cada 4 mulheres, sofreram pelo menos um tipo de assédio sexual.
O descaso com os impactos gerados na carreira devido à maternidade também é ignorado na maioria dos ambientes acadêmicos. Apenas em dezembro de 2017, entrou em vigor a lei que garante às mães a prorrogação em 4 meses das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa. Uma pesquisa internacional feita com pessoas ligadas à área da STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) revelou que mulheres têm 3,3 vezes mais chance de relatar uma desaceleração no avanço da carreira depois de terem filhos do que os homens. O grupo brasileiro Parent in Science realizou um estudo detalhado sobre o impacto da maternidade na carreira das cientistas brasileiras e mostrou a queda vertiginosa no número de publicações de mulheres nos três primeiros anos que se seguem ao nascimento de um filho.

Iniciativas e avanços
Diante de tantas questões complexas e interconectadas, além de todas as intersecções de classe, raça e sexualidade que devem ser consideradas na busca de equidade social, é importante destacar alguns avanços e iniciativas que têm contribuído de alguma forma para tornar o acesso e a permanência na carreira mais igualitários e justos. Hoje a pauta da igualdade de gênero na ciência já é abraçada pela Unesco, pela ONU, que a tem como meta a igualdade de gênero na Agenda 2030 e por diversas outras entidades mundiais. Um projeto importante é o Gender Gap in Science do Conselho Internacional de Ciência (ISC) em parceria com a Unesco e outras entidades que têm como objetivos principais investigar como medir e como reduzir a desigualdade de gênero na ciência.
Nacionalmente podemos citar várias propostas de incentivo às mulheres na ciência: o “Meninas nas ciências Exatas, Engenharias e Computação” do CNPq que financiou várias iniciativas focados em estimular graduandas e meninas do ensino básico simultaneamente; o “Elas nas Exatas” financiado pelo Fundo Social Elas, Instituto Unibanco, Fundação Carlos Chagas e ONU Mulheres; o “Para Mulheres na Ciência” financiado pela L’Oréal, Unesco Brasil e Academia Brasileira de Ciências que financia parte da pesquisa das cientistas contempladas; a Gênero e Número que é uma startup de jornalismo de dados que debate sobre equidade de gênero.
Desde o ano passado, o Brasil também participa do Soapbox Science, um evento de divulgação científica e promoção de mulheres que começou no Reino Unido em 2011 com a finalidade de mostrar para a sociedade em geral que mulheres também fazem ciência. O evento já ocorreu em diferentes cidades da Europa, África e América e neste ano aconteceria em três cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Salvador e Maceió. Por causa da pandemia, o evento está acontecendo online e conta com dezenas de pesquisadoras brasileiras das mais diversas áreas apresentando suas pesquisas e debatendo sobre representatividade. Essas palestras virtuais são uma ótima oportunidade de aprender sobre a importância da pesquisa científica para nossa sociedade e sobre mulheres na ciência, sem sair de casa.
E se você quer contribuir ainda mais para um mundo mais justo, procure um desses grupos citados ou tantos outros que promovem ciência e diversidade. Garanta que as pessoas não serão excluídas de espaços acadêmicos apenas pelo seu gênero, raça, classe, sexualidade ou qualquer outro atributo sem nenhuma relação com suas capacidades intelectuais. Tente perceber seus próprios preconceitos, elogiar garotas por sua inteligência, “gaste um minuto a mais” buscando por autoras mulheres, por cientistas premiadas, por descobertas científicas feitas por mulheres. Você sabia que neste ano quatro mulheres receberam o prêmio Nobel em diferentes áreas? Se não sabia, comece buscando por elas. Depois assista às palestras incríveis que estão acontecendo no YouTube do Soapbox Science Maceió (acompanhe todas as informações no instagram @soapboxsciencemaceio)! As cientistas e futuras cientistas agradecem. E a humanidade só tem a ganhar.
Referências
As Cientistas: 50 Mulheres que mudaram o mundo. Rachel Ignotofsky. Blucher, 1ª Edição (2017).
Steinpreis, Rhea E., Katie A. Anders, and Dawn Ritzke. “The impact of gender on the review of the curricula vitae of job applicants and tenure candidates: A national empirical study.” Sex roles 41.7-8 (1999): 509-528.