Como as mulheres se emanciparam e mudaram os lares brasileiros
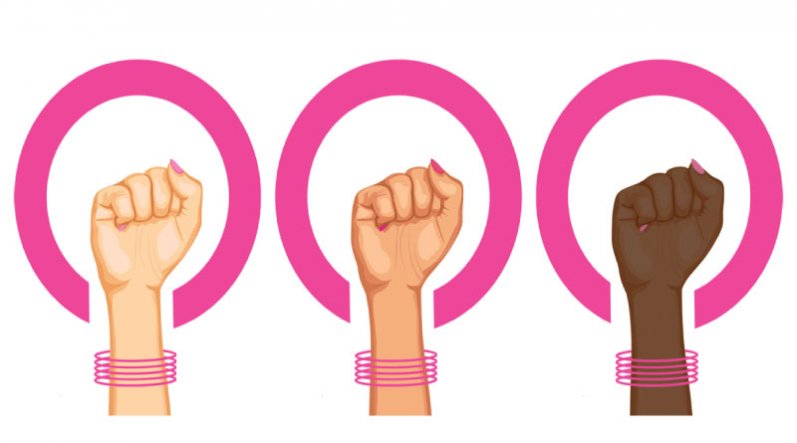
Pesquisa identifica processo de maior autonomia feminina no núcleo familiar a partir da década de 1970. Mas as mulheres que trabalham fora de casa e têm filhos continuam a se deparar com muitos obstáculos.
As transformações do papel da mulher na sociedade brasileira durante o século 20 – com conquistas importantes envolvendo o direito ao voto, divórcio, trabalho e à educação – são bastante conhecidas. O que agora começa a ficar evidente é que essas mudanças teriam estimulado um processo de emancipação feminina também na esfera familiar, com destaque para a conquista de autonomia financeira e a redução das taxas de fecundidade, que vêm caindo progressivamente desde os anos 1960.
Nos últimos anos, vários pesquisadores se propuseram a analisar esse fenômeno. Um dos trabalhos mais recentes é o da socióloga Nathalie Reis Itaboraí, pesquisadora no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj). Com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pnad-IBGE), ela analisou o processo de emancipação das mulheres nas famílias brasileiras entre 1976 e 2012 à luz de uma perspectiva de classe e gênero.
O período é marcado por transformações na condição feminina, favorecidas por mudanças na estrutura produtiva, mais oportunidades de educação e trabalho e difusão de novos valores pelos meios de comunicação e pela segunda onda do feminismo, iniciada nos anos 1960 – a primeira se deu na segunda metade do século 19. “Foi também nessa época que a desigualdade de gênero começou a ser mais debatida no Brasil, sobretudo após a declaração, pelas Nações Unidas, de 1975 como o Ano Internacional das Mulheres e o período de 1976-1985 como a Década da Mulher”, explica a pesquisadora.
Nathalie é autora de “Mudanças nas famílias brasileiras (1976-2012): Uma perspectiva de classe e gênero” (Garamond), publicado a partir de sua tese de doutorado. No livro, ela vai além dos indicadores de gênero que medem as mudanças na condição feminina na esfera pública (participação no mercado de trabalho, representação política, etc.), frequentemente usados para comparar os avanços no Brasil com outros países. Esses indicadores, segundo ela, não contemplam as diferenças entre grupos sociais na sociedade brasileira e o impacto da desigualdade de gênero na família e no trabalho doméstico (o cuidado da casa, dos filhos ou de familiares idosos, por exemplo).
Para analisar como se deram as transformações na experiência familiar das mulheres em diferentes classes sociais, Nathalie adotou oito tipos de estratos ocupacionais. Eles abarcaram desde trabalhadores rurais (classe 1), mais pobres, a profissionais com nível superior (classe 8), mais abastados.
Ainda que as desigualdades entre mulheres de diferentes classes continuem grandes, as análises indicam que o comportamento familiar feminino, independentemente da classe social, mudou na mesma direção nos últimos 40 anos, com avanços significativos quanto à sua autonomia, o que envolve maior controle sobre o próprio corpo, capacidade de gerar renda própria e de controlar esses recursos.
Até o final da década de 1960, no Brasil, o modelo tradicional de família era marcado por enormes assimetrias entre homens e mulheres. Nos casais, o homem, em geral, era mais velho, mais escolarizado e tinha mais renda. As mulheres trabalhavam apenas enquanto solteiras, abandonando suas atividades após o casamento para se dedicar aos serviços domésticos e cuidar dos filhos.
Isso começou a mudar a partir dos anos 1970. Nathalie verificou que a condição das mulheres melhorou em relação a seus cônjuges nesse período. As diferenças de renda diminuíram nos casais, assim como as de idade e de escolaridade.
Também o arranjo tradicional de família, com o homem como único provedor e a mulher como dona de casa, deixou de ser predominante. Em 1976, o percentual de mulheres casadas de 15 a 54 anos que trabalhavam era de 25,4% na classe dos trabalhadores rurais (classe 1) e de 34,5% entre os profissionais com nível superior (classe 8).
Em 2012, esse número subiu para 46,4% e 75,5%, respectivamente. “Ter renda própria ajudou a ampliar a autonomia econômica das mulheres, ainda que para as mais pobres isso signifique apenas reduzir certas privações”, explica a socióloga. Em 1976, o homem era o único provedor em 77% dos casais de trabalhadores rurais e em 63% dos casais de profissionais com nível superior. Em 2012, esse percentual caiu para 50,5% na classe 1 e para 24,1% na classe 8. “Homens e mulheres se tornaram mais parecidos quanto ao engajamento profissional, ainda que as mulheres enfrentem mais obstáculos no mercado de trabalho.”
Essas conclusões reforçam um fenômeno que há algum tempo vem sendo observado no Brasil. A quantidade de lares chefiados por mulheres aumentou 67% entre 2004 e 2014 no país, segundo dados do IBGE. A concentração de mulheres chefes de família tende a ser mais acentuada nas camadas mais pobres, já que a própria pobreza as conduz ao mercado de trabalho, verificou a socióloga Mary Alves Mendes, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Tendência semelhante foi identificada pelo demógrafo Mario Marcos Sampaio, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele é um dos coordenadores de uma pesquisa publicada na revista “Bahia Análise & Dados” que analisou o processo de emancipação feminina nas regiões metropolitanas brasileiras entre 1990 e 2000. No estudo, eles verificaram que a participação das mulheres na composição da renda familiar brasileira é crescente, no papel de cônjuge ou no de filha.
Essas mudanças estão relacionadas a um processo lento, mas contínuo, de ampliação das oportunidades de acesso à educação às mulheres, iniciada em 1879, com a promulgação da Reforma Leôncio de Carvalho, que permitiu às mulheres cursar o ensino superior. A partir dos anos 1970 essa ampliação passou a ser acompanhada de uma tendência de melhor desempenho escolar das mulheres em relação aos homens, sobretudo nas famílias mais pobres.
Hoje, segundo dados publicados em 2014 pelo IBGE, 12,5% das mulheres com 25 anos ou mais completaram o ensino superior em 2010. A participação masculina no período foi de 9,9%. “Se existe uma estratégia nas classes baixas de escolher um ou mais filhos para seguir estudando, é provável que sejam as meninas, por terem, em média, um melhor desempenho escolar”, afirma Nathalie.
Os métodos de contracepção também tiveram um papel central no processo de emancipação feminina. As mudanças desencadeadas pela liberação sexual e o surgimento da pílula anticoncepcional, nos anos 1960, deram mais segurança às mulheres para que pudessem organizar a maternidade em função de suas ambições profissionais e outras prioridades.
Como resultado, ao longo dos anos houve uma diminuição das taxas de fecundidade (estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo) em mulheres de todas as classes sociais e de maneira ainda mais acentuada nas classes baixas. Em 1976, a taxa de fecundidade dos trabalhadores rurais (classe 1) era de 6,6 filhos por mulher. Em 2012, esse número caiu para 2,8.
No mesmo período, a taxa de fecundidade entre profissionais com nível superior (classe 8) diminuiu de 2,5 para 1,2. Segundo dados do IBGE de 2015, a taxa de fecundidade no Brasil é de 1,72, abaixo do nível de reposição da população.
De acordo com a antropóloga Andrea Moraes Alves, da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), essa tendência se consolidou nos anos 1990. A visão da contracepção como um direito da mulher e como parte da atenção à sua saúde foi fortalecida durante a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, promovida em 1994, no Cairo, Egito, e pela 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing, China, em 1995.
“Os movimentos feministas tiveram um papel central para o estabelecimento desse conceito”, destaca a pesquisadora, que recentemente analisou a trajetória do Centro de Pesquisas e Atenção Integrada à Mulher e à Criança (CPAIMC), instituição privada que funcionou no Rio de Janeiro entre 1975 e 1992 oferecendo acesso à contracepção e à cirurgia de esterilização para mulheres.
As conclusões de Nathalie e Andrea são condizentes com outros estudos, coordenados pelas demógrafas Elza Berquó e Sandra Garcia, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).
Elas são responsáveis pela pesquisa “Reprodução após os 30 anos no estado de São Paulo”, publicada em 2014. As pesquisadoras identificaram uma tendência entre as mulheres de adiamento da maternidade para depois dos 30 anos. Em São Paulo, a taxa de fecundidade passou de 4,7 filhos por mulher, em 1960, para 1,7, em 2010, sugerindo a existência de uma tendência de adiamento, temporário ou até mesmo definitivo, da maternidade.
Já na pesquisa “Reprodução assistida no Brasil: Aspectos sociodemográficos e desafios para as políticas públicas”, coordenada por Sandra Garcia, verificou-se um aumento do uso de tecnologias de reprodução assistida no Brasil. “O adiamento da maternidade se dá de modo mais significativo entre mulheres de nível socioeconômico mais elevado, mas também é observado entre mulheres de classes menos favorecidas”, ela explica.
Segundo Sandra, a procura por técnicas de reprodução assistida aumentou em função do adiamento da reprodução para após os 30 anos e também por causa dos novos arranjos familiares.
Apesar dos avanços da condição da mulher, muitos obstáculos ainda precisam ser superados. As que trabalham fora de casa ainda recebem 30% menos para ocupações similares exercidas pelos homens, são minoria nos cargos de chefia e direção e assumem as atividades do mercado de trabalho sem renunciar aos afazeres domésticos. Também as mulheres com filhos enfrentam dificuldades para voltar ao mercado de trabalho.
Outro problema: o tempo gasto pelas mulheres com serviços domésticos em todas as classes sociais tende a ser maior do que o gasto pelos homens. “Meninas de 10 a 14 anos gastam mais tempo com serviço doméstico do que meninos da mesma idade”, diz Nathalie.
Esses dados estão alinhados com os divulgados em 2016 no relatório “Harnessing the power of data for girls”, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que indica que garotas entre 5 e 14 anos despendem 40% mais tempo por dia em tarefas domésticas não-remuneradas que os garotos. Em geral, o trabalho das meninas é menos visível e subvalorizado.








