Notas sobre corpos e guerras, mas também sobre livros e poesias

Ontem, 29 de outubro, foi o Dia Nacional do Livro; amanhã, 31, é Dia Nacional da Poesia. No hoje nos encontramos na luta, mas com a certeza de que eles — as histórias e os versos — não nos faltam.
Por Táscia Souza*
ATO I
Foi por volta de abril ou maio de 2006 que li Mia Couto pela primeira vez. Eu tinha acabado de me formar em jornalismo e emendara a faculdade no mestrado em Teoria da Literatura. Mia era comentadíssimo nas aulas de Literatura e Identidade e eu ouvia tudo com uma antipatia boba, parte pela pura tolice de uma tendência a rejeitar de cara as unanimidades, parte porque eu estava num lugar que não era o meu e percebia, não sem um certo e ingênuo ressentimento, depois de quatro anos no curso de Comunicação Social, o quanto era ignorante no que se estava produzindo e estudando em literatura. Mas “Terra sonâmbula” foi leitura obrigatória naqueles semestre, tema do trabalho final, e…
E.
Há um pequeno trecho do qual nunca me esqueci e pensava sabê-lo de cor até me dar conta, no exato instante em que procurei a citação, de que fui vítima de uma peça pregada pela minha memória. “A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos.” É o que está escrito. Por algum motivo obscuro, minha lembrança trocou guerra por medo. Talvez porque não tenha experimentado que o medo, numa guerra, deve ser maior que qualquer outro medo. Ou talvez porque medo seja algo que me acompanhe. Talvez porque eu sinta muito medo. Agora e há muito tempo.
Talvez também porque eu pensasse nunca ter vivido uma guerra. Até agora.
ATO II, cena 1
Na noite de 20 de junho de 2013 eu estava num ônibus de São Paulo para Juiz de Fora, voltando para casa após uma reunião da Contee. Levamos (a coordenadora interina da Secretaria-Geral, Cristina Castro, e eu) 13 horas entre as duas cidades, metade das quais parada numa Via Dutra fechada pelos manifestantes. Acompanhei as notícias pelo celular, até acabar: primeiro o sinal, depois a bateria. As notícias não. Em algum lugar da minha linha do tempo numa rede social continua postado: “Alguém me explica?”. Lá do Rio de Janeiro, minha amiga Juliana Prado — jornalista , poeta talentosa e minha ex-editora no jornal Tribuna de Minas — me deu a mão: “Estou atônita”. Foi um alento, porque a Jú sempre me explica as coisas. Quando não explica, sente o inexplicável comigo. Estávamos. Atônitas, digo. Tontas. Já em vertigem, embora a diretora Petra Costa só fosse dar nome ao nosso desatino e ao desvario da democracia seis anos depois.
Cena 2
Foi um alívio encontrar o Luis Cesário Lopes (o China) naquele 1° de abril de 2014. Eu tinha ido sozinha ao sarau na antiga Livraria Liberdade, aqui de Juiz de Fora, centro de tantos livros e poemas. O Amarildo tinha sido executado quase um ano antes; um menino negro tinha sido acorrentado a um poste dois meses antes; o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) tinha dito que quase 30% dos entrevistados por sua sondagem concordavam que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas — isso dias antes. E o China se sentou ao meu lado no balcão do bar da livraria, porque naquele dia se completavam 50 anos do golpe de 1964 e, sim, era para não ser esquecido; era para nunca mais ter acontecido. Era esse tio da minha amiga e também jornalista Flávia Lopes, hoje meu amigo também, que estava comigo quando ouvi o cantor Dudu Costa tocar “Aroeira”, do Geraldo Vandré. Quando cheguei em casa, por causa dessa canção que é também protesto, vaticínio e poesia — e do Amarildo, do menino acorrentado, do Ipea, das mulheres que eu entrevistara nos meses anteriores para fazer a revista-calendário “A mulher nos anos de chumbo”, produzida pela Contee, da minha pesquisa de doutorado sobre desaparecidos políticos e o trágico dos corpos insepultos —, comecei a escrever “Canção de ninar (ou Faça o que tem que fazer)”, um drama em três tempos que partia do mito de Catarina de Alexandria para contar a história de Nina e da opressão que atravessa todos os tempos. A peça, cujo texto eu julgara ter nascido datado, estreou pouco mais de um ano depois. Ou um ano antes, se tomarmos o golpe que viria em abril de 2016 como um novo parâmetro de nossa contagem de tempo.
Cena 3
Pouco mais de dois meses depois desse encontro com o China — e com “Aroeira”, e com meu próprio turbilhão, e com o gérmen de um doutorado inteiro e de “Canção de ninar” —, vi um homem se jogar na frente de um trem numa das passagens de nível da linha férrea que, ali naquela altura, lado a lado com o rio, parte minha cidade em duas. Foi o tempo de ouvir o alerta desesperado do maquinista, escutar os gritos dos outros pedestres, olhar para trás e ele não estava mais lá. Só o trem. Era manhã e, como é comum no inverno por aqui, fazia sol e um céu bem azul. Não sei se aquele homem tinha reparado nesse detalhe; tampouco posso dizer que, se tivesse, isso mudaria alguma coisa em seu percurso. Mesmo sem chegar perto do corpo, arrastado metros à frente e ao redor do qual se reuniu uma multidão, chorei, com minha mãe ao telefone, o resto do caminho de volta para casa.
Cena 4
Meu avô paterno morreu atropelado por um trem numa passagem de nível, mas eu era pequena demais para me lembrar.
ATO III, Cena 1
Mia Couto salvou aquela segunda-feira, 18 de abril. No Brasil, na noite anterior, o Plenário da Câmara dos Deputados decidiu pela autorização do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Horas à frente, um oceano inteiro de distância, não assisti àquele espetáculo farsesco que Petra tão bem recordou em seu filme. Tampouco dormi bem. Lembro-me de ter sonhado que o resultado seria outro. Sonhei dormindo e sonhei acordada, alternadamente. Quando o sonho acabou, naquela segunda, Gustavo Burla (professor, escritor, diretor do Sinpro-JF e companheiro de jornada) e eu vagamos sonâmbulos por uma terra que não era a nossa. Levou um dia inteiro até o Mia. Por acaso descobrimos que ele estaria ali em Barcelona, naquela noite — onde e quando também estávamos por um completo acaso — para uma palestra. Fomos. Contou-nos histórias da guerra, do medo. Da enorme injustiça social (e do nosso abismal privilégio) que nos faz temer — temer! — uma criança negra e pobre que se aproxima de nós na rua. De um homem que fez das paredes de uma estação pluviométrica seu livro (e poderia ter sido de uma estação de trem) porque era preciso continuar a escrever ainda que faltasse papel; ainda que faltasse tudo. Mia falou e só aí Gustavo e eu conseguimos nos olhar nos olhos pela primeira vez naquele 18 de abril pós-golpe. A gente chorou.
Cena 2
No fim de 2016, já de volta ao Brasil depois de quase um ano fora por causa do doutorado, aquela minha mesma amiga Flávia fez com que eu me matriculasse com ela numa oficina de tambor.
ATO IV, Cena 1
Tenho pensado em corpos sistematicamente. Tenho diariamente investigado o meu. As linha que surgem no meu rosto, a gordura que se acumula no abdômen e nos quadris, as dores na lombar pelos anos de má-postura trabalhando, com o computador no colo, do sofá. Na falta de uma paisagem mais extensa do que a vista da minha varanda (que por sorte é bastante ampla para a gente buscar ar, mas não o suficiente para respirar o mundo inteiro), tenho tirado fotos de pedacinhos de mim, tentando meio desbaratada me encontrar nelas. Nem sempre me reconheço nas fotos que tiro ou nas palavras que escrevo e que também são corpo. Quem sou eu neste corpo e neste mundo?
Cena 2
Obviamente estudei sobre livros no doutorado em Estudos Literários. Especificamente sobre três livros entre tantos: “K: Relato de uma busca”, de B. Kucinski, “Ainda estou aqui”, de Marcelo Rubens Paiva”, e “Antes do passado: o silêncio que vem do Araguaia”, de Liniane Haag Brum. Livros nacionais, cujo dia espero que continue sendo celebrado. Mais do que isso, porém, estudei sobre corpos. Corpos torturados. Corpos impedidos de ser sepultados. Corpos ocultados das famílias daqueles aos quais pertenceram. Corpos incinerados, corpos jogados em valas comuns, corpos largados na selva, corpos desaparecidos — porque alguém, ou um Estado inteiro, os fez desaparecer. Em “Vigiar e punir”, Foucault escreveu sobre o suplício (no caso, especificamente sobre o suplício penal) como uma “produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune”. A espetacularização da dor pode ter desaparecido oficialmente dos processos penais, mas não desapareceu dos porões da ditadura, nem dos subterrâneos da atividade policial de agora, nem do justiçamento das ruas. Nas palavras de Foucault, “[a] Justiça persegue o corpo além de qualquer sofrimento possível”.
Cena 3
Polinices, Antígona, Jesus Cristo, Catarina, Rubens Paiva, Ana Rosa Kucinski Silva, Cilon Cunha Brum, Amarildo, João Pedro, os bebês ianomâmis cujos nomes sequer consegui encontrar. O corpo ocultado, escondido, negado é, por isso mesmo, um corpo que permanece perseguido.
Cena 4
Em julho de 1976, Maria Auxiliadora Lara Barcelos, vítima da ditadura brasileira, jogou-se na frente de um vagão de trem na estação de Charlottenburg do metrô de Berlim. Recuso-me a chamar de suicídio o desfecho de um assassinato que levou anos a fio.
ATO V, Cena 1
Na oficina de tambor mineiro do grupo Ingoma a gente aprende que moçambique, bem antes de ser a terra sonâmbula de Mia Couto, foi chão de tantos outros que, com seus corpos aprisionados, sequestrados, escravizados e trazidos à força para o Brasil, transformaram-no em ritmo de fé, luta e resistência do povo preto nas congadas das Minas Gerais. Na tradição, eles sempre souberam que tinham que preparar seus corpos. Para a festa e para guerra.
Cena 2
Há uma razão pela qual o corpo do desconhecido atropelado pelo trem aqui em Juiz de Fora me voltou à mente. Porque existem também os corpos brutalmente expostos. Os corpos abandonados em elevadores e despencados de edifícios de apartamentos. Os corpos alvejados de balas, a caminho de casa, com o uniforme da escola. Os corpos que atraem curiosos. Os corpos que juntam gente para ver. E também os corpos que não importam para os que só se importam com os próprios corpos. Os corpos que serão contaminados pelo vírus ao qual outros se creem imunes. Os corpos que serão injustiçados pela Justiça acima da qual outros se põem. Os corpos empurrados pelas mãos da sociedade e do Estado para a frente desse trem que vem à toda na nossa direção.
Cena 3
Ontem, 29 de outubro, foi o Dia Nacional do Livro; amanhã, 31, aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, é o Dia Nacional da Poesia. No meio do caminho, no hoje de tantas pedras (para recordar o homenageado) e tantas lutas (a luta de todos os hojes), flagrei-me pensando em Sherazade, que conseguiu poupar sua vida narrando histórias maravilhosas. Pensando em Federico García Lorca, segundo o qual “a poesia é algo que anda pela rua” — e continua andando, mesmo que, em defesa da vida, estejamos momentaneamente reclusos. Pensando no quadrinho do cartunista Rafael Corrêa, no qual um dos personagens, diante da pergunta “E agora, o que faremos?”, responde: “Poesia, esses canalhas não suportam poesia”. Pensando no último verso do poema “Instruções para esquivar o mau tempo”, do argentino Alejandro Robino: “A poesia dói nesses filhos da puta”.
Quando esta guerra acabar, talvez alguém tenha deixado um poema ou um livro de memórias escrito nas paredes de uma estação de trem. Na Praça da Estação, palco de tantos corpos invisibilizados (a daqui e as de tantos lugares deste país), num dia de céu bem azul.
Que não nos faltem livros, poesias nem memórias onde já falta tanto mais.
*Táscia Souza é jornalista da Contee






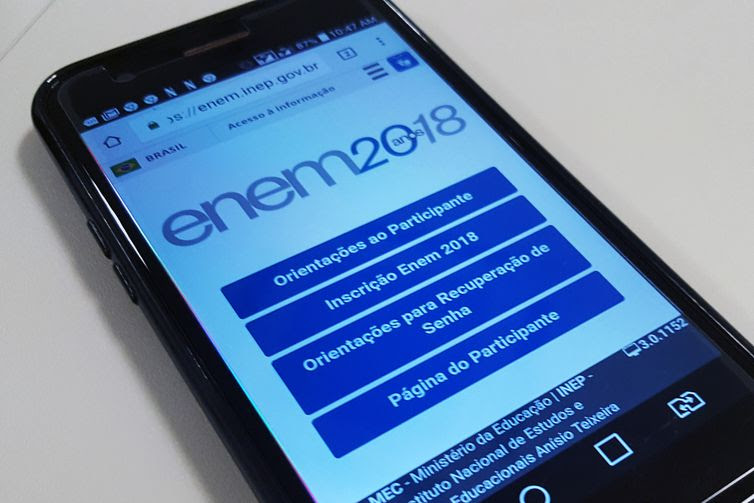


Lindo ! Parabéns Tascia