Documentos inéditos mostram que Exército abraçou o Centrão desde a Constituinte
Aliança com ‘moderados’ garantiu aos militares que sua visão de tortura e anistia entrasse para a Constituição democrática
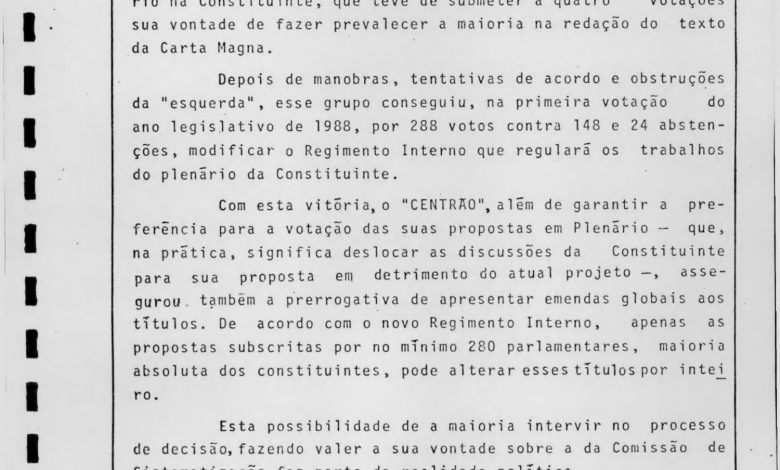
JÁ SE TORNOU CÉLEBRE a declaração do general Augusto Heleno, atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, sobre o Centrão, feita nas eleições de 2018. “Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão”, cantarolou o general, parodiando uma famosa canção. Heleno queria demarcar que, se eleito, Bolsonaro não cederia às pressões do grupo parlamentar conhecido por participar de todos os governos em troca de cargos e verbas. Mas, uma vez eleito, Bolsonaro não apenas cedeu ao Centrão – conferiu a ele cada vez mais espaço.
Em novembro de 2021, o presidente se filiou ao Partido Liberal, o PL, uma das principais legendas do grupo, para concorrer à reeleição. Seu atual vice, o general Hamilton Mourão, foi para o Republicanos, outro integrante do Centrão – partido pelo qual se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul. Por sua vez, o general Walter Braga Netto, que ocupou o lugar de Mourão como candidato a vice na campanha de Bolsonaro à reeleição, também anunciou sua filiação aos quadros do PL.
Documentos inéditos obtidos pelo Intercept, no entanto, mostram que a aproximação da caserna com o Centrão não é de agora. Essa relação sempre existiu e foi fundamental para garantir aos militares o lugar em que ocupam hoje.
Os documentos estavam no acervo do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e do Estado Maior das Forças Armadas, o EMFA, enviados pela Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, ao Arquivo Nacional. Eles mostram que, no momento em que o Centrão surgiu, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o Exército apostou nele suas fichas para defender seus interesses.
Em um Relatório Periódico de Informações do Centro de Informações do Exército, o CIE, de dezembro de 1987, o Centrão foi definido como um grupo de “moderados”. Na visão dos militares, o grupo teria surgido a partir do “despertar da consciência democrática” de parlamentares dispostos a evitar os “exageros socializantes” que vinham sendo propostos por constituintes de esquerda. Os relatórios do CIE demonstram um acompanhamento dos trabalhos da Constituinte mês a mês e documentam os interesses do Exército na discussão da nova Carta Magna. Revelam, assim, bastidores do já conhecido lobby organizado pelos militares na ocasião.
Resgatando o prestígio
Desde o início da chamada “abertura lenta, gradual e segura”, em meados dos anos 1970, setores da oposição demandavam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, a instituição da Constituinte ocorreu apenas em 1987, já no mandato de José Sarney, do PMDB, o primeiro presidente civil após 21 anos de governo militar. Havia uma forte expectativa na sociedade em torno desse momento, na medida que a mudança de Constituição era vista como o enterro definitivo da ditadura. Os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil se organizaram para buscar a ampliação dos direitos e a revogação do arcabouço jurídico que sustentara o autoritarismo.
Mas os militares também se organizaram. Em 1985, com a chegada de Sarney à presidência, os agentes do CIE já percebiam que sua forma de agir teria que mudar. Em julho daquele ano, um relatório anunciava o fortalecimento da Assessoria Parlamentar do Exército, a Asspar. Na análise do Exército, o Congresso Nacional era o novo “centro de decisões políticas” e, por isso, era necessário estabelecer um “acompanhamento mais cerrado”.
Na visão da caserna, era fundamental que os militares seguissem como os garantidores da “lei e da ordem”.
Diante do nosso cenário, o Exército definiu novas atribuições para a Asspar. A tarefa dos assessores era, entre outras, as de “transmitir aos membros das duas Casas uma imagem de Força, de austeridade e dedicação ao serviço, incutindo-lhes, através de adequada ação educativa, ideias dos altos objetivos do Exército” e de “resgatar o prestígio do Exército junto ao setor político e, simultaneamente, reposicioná-lo como inibidor das ações e posturas mais radicais”.
Em entrevista para o jornalista Luiz Maklouf de Carvalho, publicada no livro “1988: Segredos da Constituinte”, o general Leônidas Pires Gonçalves, Ministro do Exército no momento da Constituinte, confirmou essa percepção. “Nós estávamos realmente vivendo um período difícil, crítico, sem saber onde ia desaguar. Combinando com outras forças, reforçamos, no Congresso, uma turma muito boa de assessores militares”, disse.
Durante os trabalhos da Constituinte, a Asspar do Exército foi composta por 12 oficiais. A ela, se somavam as Assessorias Parlamentares da Marinha, da Aeronáutica, do Conselho de Segurança Nacional e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Dezenas de oficiais transitavam diariamente pelos corredores do Congresso com o intuito de defender os interesses dos militares na mudança da ordem constitucional.
No Relatório Periódico de agosto de 1987, o Centro de Informações do Exército apontava que a função desses assessores era a de representar um “óbice” aos “intentos” dos parlamentares progressistas. Na lógica do CIE, os interesses da caserna eram “coincidentes com o da maioria da sociedade”, enquanto os partidos de esquerda representariam a defesa das “organizações subversivas” e das “entidades contestatórias”. Assim, os militares se enxergavam como “adversários” da esquerda, prontos para atuar “organizada e metodicamente” na oposição às pautas progressistas.
O professor de Ciência Política Jorge Chaloub, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, explica essa autoimagem das Forças Armadas. “Os militares olhavam para o discurso de abertura democrática e viam as ideias de ampliação dos direitos sociais e trabalhistas como formas travestidas de comunismo”, apontou. Chaloub ressaltou que a Constituição de 1988 seria debatida em um contexto de tensão. De um lado, havia um certo espírito social-democrata e progressista, que ganhava força no final da ditadura. De outro, o mundo passava por mudanças estruturais e o neoliberalismo ganhava força.
“Para os militares, com a cabeça da Guerra Fria, o Brasil tem que pertencer ao Ocidente, que era definido, cada vez mais, em termos de capitalismo”, apontou o professor da UFRJ. “Então, quando eles veem a construção de uma Constituição progressista, eles têm a ideia de que o progressista é comunistizante”.
O presidente José Sarney (à dir.) e o ministro do Exército Leonidas Pires Gonçalves na inauguração da pira da Liberdade, em Brasília (DF). (Brasília (DF), 21.04.1987. Foto de Moreira Mariz/Folhapress)
Os ‘assuntos de interesse’
A Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos com a criação de 24 subcomissões temáticas. A partir de propostas recebidas em audiências públicas ou apresentadas pelos constituintes, as subcomissões discutiram os primeiros textos para a futura Carta Magna. Esses esboços foram analisados, em seguida, por oito comissões, que realizaram uma nova rodada de debates e deliberações.
A subcomissão mais importante para a caserna foi a de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, que teve como relator Ricardo Fiúza, do PFL. Conservador e próximo dos militares, Fiúza estruturou os trabalhos do colegiado de modo a privilegiar a interlocução com entidades militares. Nessas subcomissões, começaram a ser discutidos temas relacionados à organização institucional e à destinação constitucional das Forças Armadas.
Em sua tese de doutorado, o cientista político Pedro Benetti aponta como, na subcomissão em que esses temas foram discutidos, as entidades convidadas para apresentar suas propostas eram, em sua grande maioria, vinculadas diretamente aos militares. “Os setores conservadores avançaram suas pautas de maneira relativamente tranquila”, afirmou o pesquisador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Uerj.
A principal reivindicação das Forças Armadas era que o novo texto constitucional mantivesse a tradição das Cartas Magnas anteriores, no que dizia respeito à destinação das Forças Armadas. Na visão da caserna, era fundamental que os militares seguissem como os garantidores da “lei e da ordem”. Isto é, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não fossem instituições voltadas apenas para a defesa externa, mas também para a interna.
Essa demanda é melhor compreendida à luz da história das relações entre civis e militares no Brasil. “Desde a independência, o Exército foi destinado majoritariamente para a segurança interna”, explicou o cientista político Rodrigo Lentz. Autor do livro “República de Segurança Nacional: militares e política no Brasil”, Lentz apontou como, ao longo da história, o Exército se tornou uma organização que assumiu “o pretenso papel de ‘moderador’ dos conflitos entre as elites nacionais, sendo integrada diretamente no jogo político”. A ditadura iniciada em 1964, destacou o cientista político, consolidou esse processo histórico, levando os militares a se apresentarem como uma instituição política que estaria acima dos poderes constitucionais.
A importância desse tema para os militares fica evidente na entrevista do general Leônidas Pires Gonçalves para Luiz Maklouf de Carvalho. Ao ser questionado se haveria a possibilidade de ser aprovado um texto em que a defesa da “lei e da ordem” não estivesse prevista como função das Forças Armadas, o militar foi categórico. “Não”, afirmou ele, “porque eu não deixaria passar”.
Além da possibilidade de atuar em âmbito interno, as Forças Armadas defendiam outras prerrogativas que seriam objeto de debate na subcomissão. Esses temas chegaram a ser compilados em uma cartilha produzida pelo Centro de Comunicação Social do Exército, o CComSEx, e distribuída para todos os constituintes. No livreto, os militares defendiam a manutenção dos ministérios militares, em contraposição às propostas de criação de um Ministério da Defesa ocupado por civil; a manutenção da Justiça Militar, garantindo o foro privilegiado para militares acusados de crimes; e a subordinação das polícias militares ao Exército.
O texto resultante dos debates da subcomissão relatada por Ricardo Fiúza atendia, de forma quase integral, às demandas apresentadas na cartilha do CComSex. Na Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e de Garantia das Instituições, responsável por dar seguimento ao trabalho relatado por Fiúza, o cenário se repetiria. Esse colegiado ficou sob a presidência de um dos maiores defensores dos interesses militares na ANC: Jarbas Passarinho. Ao final de seus trabalhos, em julho de 1987, um boletim militar avaliaria positivamente o resultado da comissão. “Mais uma vez”, afirma o relatório, “o texto atende aos anseios das Forças Armadas, necessitando apenas de alguns retoques na forma”.
Do ponto de vista da organização institucional e da destinação das Forças Armadas, a caserna via seus interesses sendo atendidos. Havia, no entanto, dois pontos em que os militares vinham sendo derrotados: as discussões relacionadas à anistia e à tipificação do crime de tortura.
No RPM de julho, o Exército apontava como “a Anistia vem se constituindo na questão mais controvertida”. No mês seguinte, novo relatório confirmava a preocupação: “alguns tópicos continuam divorciados dos interesses da Força, sendo considerado ainda nevrálgico o tema da ‘Anistia’”.
Em 1979, o regime aprovara uma Lei de Anistia que tinha como objetivo principal garantir a impunidade dos torturadores. Ao mesmo tempo, ela não abarcava todas as categorias de perseguidos pela ditadura. Integrantes da luta armada acusados dos chamados “crimes de sangue”, por exemplo, foram excluídos. Outros setores não contemplados foram os próprios militares punidos por resistirem ao arbítrio.
Para as Forças Armadas, manter esses militares fora de seus quadros era uma questão de honra. Ocorre que os grupos em que o tema foi discutido eram presididas e relatadas por parlamentares mais à esquerda. Nos textos apresentados, estava prevista a ampliação dos termos da lei de 1979, de forma a garantir a reparação aos militares perseguidos. E essa reparação se daria na forma de reintegração dos cassados nas fileiras do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Militares brigaram para equiparar os crimes de tortura e terrorismo.
Diante dos avanços de um texto tido como inaceitável, o trabalho da assessoria parlamentar das Forças Armadas parecia não surtir efeito. A caserna lançou mão, então, de outra estratégia, menos cordial e polida, e que não se restringia aos bastidores. Em pronunciamento conjunto no dia 25 de junho de 1987, os três ministros militares afirmaram que a proposta não atendia aos “interesses das Forças”. “Esse texto em estudo pela Constituinte impõe coisas que maculam a hierarquia”, afirmou o então ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, ao Jornal do Brasil, em matéria que vinha com título categórico: “Ministros militares vetam anistia com reintegração”
As discussões sobre tortura também incomodavam os militares. Durante os anos 1970 e 1980, haviam se multiplicado os relatos sobre as torturas praticadas pelos agentes da ditadura. Os testemunhos do que ocorria nas prisões do regime foram fundamentais para minar a legitimidade dos governos militares. Em 1985, a publicação do “Brasil: Nunca Mais” trouxera à tona os depoimentos dados por presos políticos nas auditorias militares. O livro teve enorme repercussão e ficou por semanas nas listas dos mais vendidos.
A Constituinte não poderia, então, se furtar de debater o tema. Foi aprovado um texto inicial em que a tortura era considerada crime contra a humanidade, portanto, não passível de graça, anistia ou prescrição. A definição, é claro, desagradava aos militares.
Como demonstra o jurista Mateus Utzig em sua dissertação de mestrado em Direito na Universidade de Brasília, “a tortura era uma espécie de ‘crime-síntese’ da violência atribuída à ditadura”. Assim, a possível tipificação da tortura nesses termos poderia ser vista como um “repúdio simbólico” ao regime militar. Como estratégia para diluir esse repúdio, a caserna e seus representantes na Constituinte buscaram equiparar os crimes de tortura e terrorismo. Isso só ocorreria, no entanto, na fase de sistematização, após uma grande reviravolta nos trabalhos da Constituinte.
O surgimento do Centrão
Quando, em junho de 1987, foi encerrada a fase de subcomissões e comissões, os militares estavam apenas parcialmente satisfeitos com o andamento da Assembleia Nacional Constituinte. Naquele momento, teve início o trabalho da Comissão de Sistematização, responsável por compilar os textos vindos das oito comissões e apresentar um primeiro anteprojeto de texto da Constituição.
Em fins de 1987, quando essa etapa começava a caminhar para o fim, foi criado um novo bloco parlamentar na Constituinte: o Centrão. Os parlamentares mais conservadores entendiam que o texto que surgia no horizonte era excessivamente progressista. A primeira grande transformação operada pelo Centrão na ANC foi alterar seu regimento interno, abrindo caminho para que a Comissão de Sistematização e, posteriormente, o Plenário, pudessem alterar de maneira mais radical as propostas encaminhadas pelas comissões temáticas.
“O Centrão se organiza na Constituinte como uma forma de barrar a organização institucional de grupos progressistas, como uma forma de barrar um certo clima de ampliação de direitos”, explicou o cientista político Jorge Chaloub. Esse “clima”, ressaltou, “incomodou claramente as direitas, isso é evidente, porque isso abria portas para que governos progressistas atuassem limitando poderes longamente estabelecidos no estado”.
Liderada pelos parlamentares conservadores, a criação do Centrão foi vista pelo Exército como uma oportunidade para levar adiante as alterações que lhe interessavam nos textos já apresentados na Constituinte. No RPM de dezembro de 1987, os militares apontavam que o Centrão aparecia para “inviabilizar a promulgação de uma Carta Magna insólita”.
“É muito provável que este grupo cumpra com os propósitos que nortearam o seu surgimento, permitindo ao povo manter suas esperanças e a confiança em que a Constituinte caminhará para a depuração dos exageros, adquirindo uma conformação mais moderada, refletindo o pensamento nacional”, afirmou o relatório.
Desde o impeachment de 2016, os militares têm retomado uma ação política mais explícita, que atingiu seu auge no governo Bolsonaro.
Os RPMs do ano de 1988 apontam para uma interlocução constante entre a caserna e os parlamentares do Centrão na última etapa da Constituinte, a fase de Plenário. Nos dois temas que permaneciam em termos insatisfatórios para os militares – a anistia e a tortura –, a articulação com o novo bloco parlamentar foi definidora.
Como mostra Mateus Utzig em sua dissertação, o Centrão apresentou ao Plenário uma emenda reformulando os termos do trecho relativo a “direitos e garantias individuais”, o que incluía o tema da tortura. “Quanto à proibição da tortura”, atestou Utzig, o Centrão “propunha que fosse suprimida sua imprescritibilidade e adicionada a equiparação do terrorismo”. A emenda foi assinada por 287 constituintes pertencentes ao bloco.
Em sua forma final, o artigo sobre a tortura traria efetivamente a equiparação com o terrorismo. No RPM de março de 1988, o Centro de Informações do Exército atestava a vitória. “No que tange às postulações da Força junto à ANC, as imperfeições observadas estão sendo discutidas, título a título”, afirmava o documento.
A anistia, por sua vez, seguia como uma grande preocupação. No RPM de julho de 1988, o Exército atestava: “espera-se dos constituintes o descortino necessário para a manutenção da Anistia em termos toleráveis que não venham a conturbar o processo de transição”.
Esses “termos toleráveis” seriam obtidos, mais uma vez, junto ao Centrão. O relatório do mês seguinte já trazia novidades. “O Plenário da Constituinte, nos dias 14 e 15 Jun de 88, votou todas as emendas que versavam sobre a Anistia aos militares cassados”, aponta o texto. “Como nenhuma emenda conseguiu atingir os 280 votos necessários à sua aprovação, ficou mantido o substitutivo do ‘Centrão’”. A síntese vinha nas conclusões do relatório: “A anistia aos militares cassados não passou dos limites estipulados no texto do CENTRÃO”.
Ao final da Constituinte, como resultado do lobby das Forças Armadas nos bastidores, das pressões públicas de comandantes e ministros militares e da articulação com o Centrão, as demandas da caserna haviam sido, em grande parte, contempladas..Mesmo em documentos internos, o discurso de equiparação entre os interesses da caserna e os do país era mantido. “Ao contrário de outros ‘lobby’”, apontava o informe de agosto, “as Forças Armadas não almejaram benefícios corporativistas, pautando suas reivindicações nos interesses maiores da Nacionalidade e vislumbrando um futuro de progresso e conciliação para todos os brasileiros”.
A despeito de negarem a dimensão corporativa de sua atuação, os militares tiveram um papel chave na Assembleia Nacional Constituinte. Apesar de ser um ator relevante do processo, Pedro Benetti ressaltou que é preciso fazer ressalvas ao apontar que a Constituição teria sido controlada pelos militares. “A marca da transição e da constituição é a da contradição”. Uma prova disso seria o fato de que, conforme os anos de Nova República passaram, as Forças Armadas saíram do primeiro plano do debate público e do cenário político.
Governo Bolsonaro representou o auge do retorno dos militares à política.
Os dias de hoje
Desde o impeachment de 2016, os militares têm retomado uma ação política mais explícita, que atingiu seu auge no governo Bolsonaro. Para Rodrigo Lentz, com a manutenção de sua autonomia depois da Constituinte, “as Forças Armadas preservaram sua autoimagem de tutores nacionais”. Segundo o cientista político, o mais grave é que elas seguiram sendo vistas desta forma no imaginário popular e pelas elites políticas.
“Foi a partir dessas condições materiais”, explicou Lentz, “que, devido a diversos fatores conjunturais, uma fração politizada das Forças Armadas progressivamente passou a conspirar no varejo político e desaguou no projeto de governo carismaticamente liderado por um capitão reformado e por um general da reserva”.
Esse governo, liderado por Bolsonaro e os generais em seu entorno, se elegeu criticando o Centrão, mas pouco depois se aliou ao grupo. Em julho de 2021, após nomear Ciro Nogueira, do Progressistas (antigo PP) do Piauí, como seu ministro da Casa Civil, Bolsonaro afirmou: “Olha só, Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo”.
Heleno, por sua vez, questionado sobre o apoio do Centrão ao governo, preferiu apostar no negacionismo. “Aquela brincadeira que eu fiz foi numa convenção, na época da campanha eleitoral. Naquela época existia, à disposição na mídia, várias críticas ao Centrão. Não quer dizer que hoje exista Centrão”.
Embora o general tente hoje negar a existência do Centrão, o grupo segue existindo, e com força inédita. “Bolsonaro está no partido do presidente da Câmara, que é o principal fiador das negociações que têm ocorrido no Congresso”, lembrou a cientista política Carolina Botelho, pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e Opinião Pública. “Ele e seu vice estão se confundindo com o setor mais fisiológico”.
É certo, no entanto, que os cientistas políticos são unânimes em apontar os perigos de se fazer uma associação direta entre o Centrão da Constituinte e o bloco que chamamos hoje por esse nome. “É complicado a gente dar um salto automático, até porque tem muito tempo nessa história”, apontou Botelho.
‘A própria existência dos militares enquanto atores políticos é uma limitação à democracia’.
A despeito das diferenças, há características marcantes que não se alteraram. Como ressalta o também cientista político Jorge Chaloub, nem no Centrão da Constituinte, nem no atual, seria possível afirmar que o traço do fisiologismo apagaria as crenças ideológicas.. Segundo o professor da UFRJ, essa ideologia é diretamente vinculada à busca pela manutenção do status quo.
Na visão de Rodrigo Lentz, é também essa manutenção de um certo estado de coisas que motiva a atuação política dos militares. “É essa a lei e a ordem a serem preservadas: manter a instituição militar com o papel de garantir uma ordem de classe na organização social e a hegemonia oligárquica na organização política”, afirmou. Lentz explica que a consequência mais imediata disso é “a criminalização da sociedade civil e dos movimentos sociais, tanto na dimensão política quanto na dimensão social. Outra consequência é o não reconhecimento dos direitos humanos como fundamentais e universais a qualquer pessoa”.
Chaloub aponta em direção semelhante. “A presença dos militares coloca necessariamente um horizonte que vai além das instituições democráticas”, afirmou o professor. “Mesmo que a ameaça não seja diretamente colocada, tem sempre a possibilidade de que eles podem atuar por meio da força e das armas. Então, sua própria existência enquanto ator político é uma limitação à democracia”.







